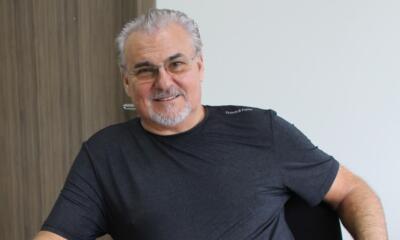Osnei Alves
Departamento pessoal e gestão de pessoas: um paradigma nas organizações


O modelo departamento de pessoal surgiu nos Estados Unidos em meados do início do século XX, tendo como base os princípios taylorista-fordista. O período era de grande desenvolvimento econômico, industrialização crescente e abundância de mão de obra. A finalidade era criar um método para identificar os indivíduos adequados para trabalhar, representando o menor custo possível. A lógica vigente era que “os empregados se tornaram um fator de produção cujos custos deveriam ser administrados tão racionalmente quanto os custos dos outros fatores de produção.
Em meados dos anos 1930, os pressupostos tayloristas ainda prevaleciam em grande parte das empresas, mas a teoria já seguia para outra direção, promovendo as primeiras experiências entre administração e psicologia, determinando assim, uma nova fase histórica da visão das pessoas nas organizações.
O modelo de gestão de pessoas como gestão do comportamento humano ou teoria das relações humanas teve origem nas experiências de Elton Mayo no campo do comportamento humano no trabalho.
A teoria das relações humanas introduziu a sociologia e a psicologia à administração e, estes novos pressupostos foram determinantes para a compreensão e a interação da nova visão do trabalhador dentro da organização. Assim, sob a influência da sociologia e da psicologia, gradativamente foi crescendo o movimento de substituição da concentração exclusiva na tarefa, preocupação restrita nos custos e resultados da produção por maior liberdade no trabalho, redução da pressão, trabalho em equipe e objetivos comuns.
Posteriormente, a psicologia humanista de Maslow passou a integrar a teoria das relações humanas, interferindo decisivamente na teoria organizacional originando a expressão human resource management.
Este foi o mais influente e conhecido modelo de gestão de pessoas da história da teoria organizacional e uma das principais contribuições desta corrente foi determinar que o principal papel dos gestores era intermediar a relação entre empresa e pessoas, ordenando tarefas e monitorando-as. Desta forma, as empresas estimularam o treinamento e o desenvolvimento destes gestores. Motivação, liderança e comprometimento constituíram os conceitos-chave deste modelo.
O final da década de 1970 foi marcado pela crise do petróleo que desencadeou uma forte instabilidade econômica. Neste período, entre as décadas de 1970 e 1980, dois novos conceitos foram introduzidos na modelagem da gestão de pessoas: abordagem sistêmica e abordagem estratégica. A introdução destes novos conceitos, marcou o início da fase do modelo estratégico de gestão de pessoas, tendo origem nos estudos de Ludwig von Bertalanffy (abordagem sistêmica) e posteriormente, pelas pesquisas sobre a abordagem estratégica realizadas pelas Universidades de Michigan e Harvard Business School, respectivamente.
Integrado à visão sistêmica, os estudos da Universidade de Michigan apontavam à necessidade de vincular o gerenciamento de pessoas às estratégias da organização, dessa maneira, defendiam que a forma de gerenciar os recursos humanos deveria adequar-se buscando “o melhor encaixe possível com as políticas empresariais e os fatores ambientais.
O termo gestão de pessoas também não significa, apenas, a tentativa de encontrar um substituto renovador para a desgastada noção de administração de RH. Seu uso, hoje bastante comum nas organizações, procura ressaltar o caráter da ação – “a gestão” e seu foco de atenção: “as pessoas”. Uma empresa é administrada, mas uma relação humana pode, no máximo, ser gerida – isso quando se admite que os dois agentes têm consciência e vontades próprias […].
Hoje o papel do homem no trabalho vem se transformando. Suas características mais humanas – o saber, a intuição e a criatividade – são valorizadas. Temos de reconhecer que gerimos nossas relações com as pessoas, não com os recursos, o que demonstra a transição para a realidade empresarial radicalmente diversa
O conflito e suas vertentes psicológicas
Para compreender o papel do conflito em psicopatologia, deve-se prestar atenção às suas várias formulações a partir da formulação inicial freudiana. Em sentido geral, o conflito é colocado dentro da relação do indivíduo com a natureza e com a cultura, como indicativo da ligação entre as demandas internas (corpóreas) e as externas (ambientais).
Como lembra Friedman (1977), o conflito psíquico, todavia, não pode ser tratado como equivalente a um conflito com o ambiente, mas refere-se à dinâmica intra e interpsíquica, em que assume destaque a dialética entre a característica do ser humano segundo a qual ele é um só ser com todos os outros seres, e outra característica segundo a qual ele está separado e é independente dos outros.
Para compreender melhor a natureza do conflito, Freud propõe distinguir duas classes pulsionais, as pulsões do Ego (ou de auto conservação) e as sexuais, indicando também o conflito entre o Ego e as fantasias libidinais reprimidas. Em síntese, para a metapsicologia, o estado de saúde ou doença não depende tanto da disposição pulsional do indivíduo, porém mais da atitude do Ego com relação à sexualidade, ligada a estilos comportamentais e posturas morais contrastantes e conexas com derivações pulsionais anteriormente reprimidas.
Na década de 1920, Freud (1977) Freud aperfeiçoa sua concepção do conflito psíquico graças à introdução de novas hipóteses metapsicológicas. Como de costume, ele não retoma de modo sistemático a teoria precedente, privilegiando uma análise mais completa do complexo edipiano e evidenciando o papel motivacional da angústia sinal na economia psíquica. Ele insiste, porém, que o conflito é sempre de natureza pulsional, através da oposição entre Eros e a pulsão de morte, mas se torna patológico quando se realiza entre as instâncias psíquicas pode-se assim falar de neuroses de transfert (conflito Ego/Id), de psicoses (conflito Ego/realidade externa) e de neuroses narcisísticas (conflito Ego/Superego).
Foi a psicologia do Ego que elaborou em detalhe as hipóteses metapsicológicas sobre o conflito psíquico, assumindo que ele “tem lugar entre impulsos, isto é, entre o Id e o Ego” (FENICHEL. 1945). Em particular, Heinz Hartmann indaga o conflito psíquico a partir da ideia de um “confronto do Ego, por um lado, com o mundo circundante e, pelo outro, com os estados profundos da psique” (HARTMANN 1927; trad. it. 1981, p. 225). Sua conceituação, que privilegia as relações quantitativas no seio da economia libidinal embora tenha perdido progressivamente crédito em razão da relutância por parte dos psicanalistas no emprego de noções de natureza energética, não foi jamais de todo superada, como mostra Sandler (1974), ao falar de aspectos peremptórios (Id) e protrogáveis (Ego) da psique.
Partindo da distinção estrutural entre o Id como “parte biológica” e o Ego como “parte não biológica” do processo de apego, Hartmann (1939; trad. it. 1978, p. 13) afirma que, “embora o Ego se forme sem dúvida através dos conflitos, estes não são a única fonte de desenvolvimento daquele”. Disso deriva a necessidade de uma teoria genética da chamada esfera do Ego livre de conflitos, com a distinção entre estruturas conflituosas (conflict-full) e não conflituosas (conflict-free) da mente.
O conflito, para os autores da escola hartmanniana, pertence, portanto, à economia psíquica interna, como nota Rapaport (1960; trad. it. 1977, p. 90), relevando que, “se tudo fosse real (externo), não haveria nenhum conflito”. Desse modo, isso diz respeito a uma estrutura psíquica, ou seja, o Ego, enquanto a função de estar em conflito (está) assim próxima à função do sentir o conflito que é eminentemente lógico, que entre ambos reside na mesma instância. A qualidade conflituosa do Ego é explicada, pois, pelo fato de que nessa instância subsiste sempre uma área problemática, a sexualidade, que interfere na “administração psíquica normal”; daqui vem a oposição permanente do Ego com relação ao mundo interno, a propósito da qual Anna Freud levantou a hipótese da existência de uma inimizade primária entre o Ego e as pulsões.
Deve-se a Anna Freud a distinção entre conflitos externos, conflitos interiorizados e conflitos “verdadeiramente internos”; no primeiro caso (Ego + Id/realidade), “criança e ambiente estão em contraste entre si”, no segundo (Ego/Superego) o conflito “se instaura após a identificação com as forças externas e a introjeção de sua autoridade no Superego”, enquanto no terceiro (Id/Ego) os contrastes “derivam exclusivamente das relações entre o Id e o Ego e das diferenças intrínsecas às suas organizações” (FREUD 1965; trad. it. 1979, pp. 857-858).
Enquanto as duas primeiras tipologias de conflito são clinicamente observáveis na relação entre o paciente e suas figuras significativas (conflito interpessoal), ou seja, entre os desejos e a necessidade de controle ou regulação moral (conflito intrapessoal), quanto ao conflito interno ou intrapsíquico, ele não corresponde quase nunca a condições clínicas específicas, mas diz respeito, sobretudo, às neuroses nucleares infantis sobre as quais se constrói o psiquismo humano; trata-se, portanto, de uma condição latente, que tem origem e se consolida na primeira infância e que permanece a referência metapsicológica obrigatória nos processos intra- e intersubjetivos do desenvolvimento.
Desconsiderando o conflito externo, podemos distinguir diversas modalidades de conflito, por exemplo entre desejos infantis e representações internas do ambiente, entre pulsões em sentido lato, os conflitos internos ao Ego e ao Superego, e os conflitos entre pulsões e inibições inatas (NEMIAH 1963). Em cada caso, não está bem claro de que modo do conflito intra e interpsíquico se possa retornar ao conflito nuclear, porque o conflito, em razão de seu polimorfismo, “é fácil de descrever em suas modalidades clínicas, mas é difícil de enquadrar em uma teoria metapsicológica” (DORPAT 1976, p. 869).
Todavia, ainda que se possam distinguir numerosas formas de conflito (PETRELLA 1989), existem também conflitos menos claramente definidos: apenas nas neuroses relação ‘‘interna/externa” (Id/realidade) para a satisfação das demandas pulsionais (conflito de defesa), quanto à relação “polo ideal/polo moral” da personalidade (ideal do Ego/Superego) para a relação objetai (conflito de ambivalência). A literatura micro e macroscópica permite, assim, compreender os conflitos intrassistêmicos a partir do contraste interno entre os interesses do Ego e entre os valores do Superego.
No âmbito fenomenológico, também parece útil a distinção entre conflito-decisão e conflito-dilema , que ecoa aquela mais tradicional entre conflitos convergentes (ou de defesa) e conflitos divergentes (ou de ambivalência). Essas duas formas conflituosas dizem respeito a diferentes sistemas defensivos do Ego (fundados sobre a cisão ou então sobre o recalque), em que a conflituosidade do Ego tem relação com as contradições internas do Superego entre elementos psíquicos intoleráveis, ou então à oposição entre Superego e ideal do Ego.
Desse modo, para compreender de que maneira as tensões intrassistêmicas criam efeitos intersistêmicos, que, por sua vez, influenciam novas condições intrassistêmicas, chega-se a cogitar que o Superego teria alguma função de escolha e organização, mas menos central e dominante que o Ego na construção do conflito intrapsíquico.
Quem é Osnei Francisco Alves


Osnei Francisco Alves é especialista na área de gestão, estratégia empresarial, marketing, comunicação, tecnologia, educação, entre outras. Escritor de livros e artigos científicos. Atualmente, gerente executivo do Senac em Marechal Cândido Rondon.
consultorosnei@gmail.com
Facebook e Instagram: Osnei Francisco Alves